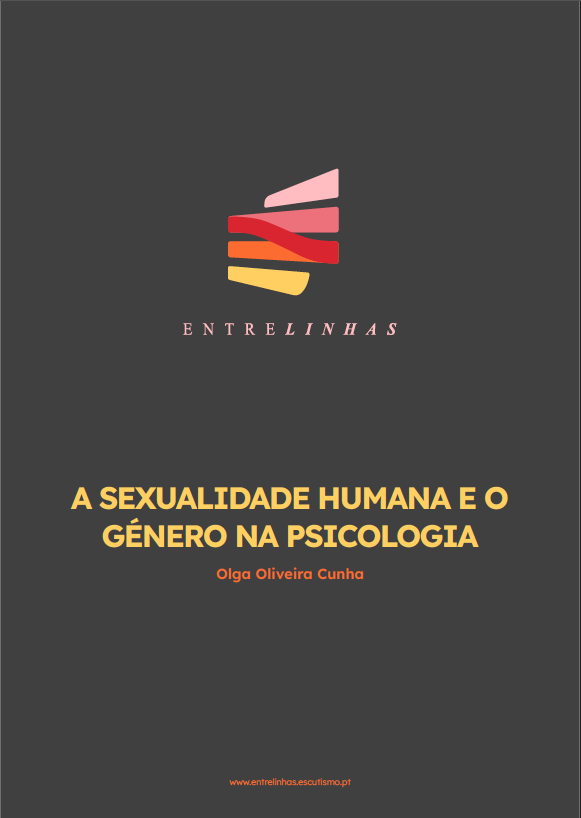Uma só Humanidade
As várias formas etnocêntricas e outras que com estas partilham o mesmo paradigma de aversão ao diferente constituem, desde que há monumentalidade humana – restos físicos da atividade humana – e suas leituras historiográficas – sempre em ato memorial – estruturas antropológicas poderosíssimas, definidoras, culturalmente (nunca naturalmente), de isso que é considerado propriamente humano.
Trata-se, sempre, de uma construção humana, cultural, portanto, devida apenas ao humano ato de pensamento, aqui entendido no seu sentido mais vasto, o cartesiano, em que todo o conteúdo do ato de pensar conta, da ideia de sereia à dor, do desejar e do querer, ao afirmar e negar. Neste sentido, tudo o que existe com forma lógica de que a humanidade é capaz, isto é, cuja inteligência é capaz de apreender o sentido, é humano.
As ciências, por mais ‘duras’ que sejam, como a matemática, enquanto ciências, são produto humano, não natural ou divino, por exemplo; tudo o que é dito como «lei», seja a chamada «lei natural» seja a positiva-jurídica, é produto de humana criação; mesmo os textos sagrados, independentemente do ato de fé que neles se deposita, enquanto produto de humana afirmação, oral ou escrita, enquanto humanamente entendíveis, são de humana escrita, são humanos, ainda que divinamente inspirados.
A humanidade, em si mesma e por si mesma, é apenas capaz de humanidade: ‘sub-humano’ ou ‘super-humano’, se humanamente intuível, em termos de sentido, tudo ‘isso’ é humano. O mais é não-humano, como, por exemplo, saber, na sua infinita precisão, o que seja o número total (na realidade, infinito em ato) que nos é dado simbolicamente por Pi (π = 3,1415926535…).
Neste sentido, ainda, apenas algo com este tipo de grandeza pode ser dito «mistério», pois, por mais empenho que haja em saber exatamente o que é, isso que é furtar-se-á infinitamente à sua posse integral como sentido; à posse integral da humana inteligência como sentido. O mesmo se diga, também, para isso que é Deus para os cristãos. O mais pode ser apenas correlativo da nossa capacidade – neste caso, incapacidade – de medida, mas não é mistério: nós simplesmente não temos inteligência suficiente para saber o que tal seja, o que tal é.
Neste mesmo sentido, e ainda em termos cristãos, o mal não é um mistério, é toda a distância ontológica entre o melhor bem possível para cada ato (assim, também possível) e o bem efetivamente realizado. Trata-se de algo ontológico, pois refere-se a uma possibilidade própria de ser que é impedida. Em termos humanos, tal impedimento querido, voluntário, corresponde ao mal dito moral, que é ético, quanto à sua fonte interna no seio decisivo da ação humana; político quando transita deste foro interno para o ser de terceiros, para a chamada ‘praça pública’.
Este sentido de mal, se bem que não aprofundado neste estudo, está, nele sempre presente como possibilidade de violência sobre terceiros. Também a presença de bem, como absoluto ontológico que ergue cada ente no absoluto que o constitui, permeia todo este estudo.
A questão fundamental que aqui nos move, sendo fundamentalmente antropológica, pois diz respeito à ontologia própria dos seres humanos, onto-antropologia, é, também, concomitante e imediatamente, ética e política: que entendo por «ser humano»?; como quero agir relativamente a ‘isso’?; como se repercute a minha ação sobre ‘isso’ que considero como «ser humano» e ‘isso’ que considero como não sendo um «ser humano» ou como sendo um ser humano de algum modo – não imperfeito, porque o somos todos, mas diverso de tal – ‘errado’, ‘incómodo’, ‘degenerado’, ‘indesejável’, quiçá, ‘poluente’, ‘impuro’, ‘imundo’, ‘negligenciável’, ‘descartável’, no limite, ‘aniquilável’ por ser como é, querendo eu que o não seja?
As formas de etnocentrismo e de definição cultural do que é considerado propriamente humano nascem como atos de sentido postos em terreno político – de relação inter-pessoal – por alguns seres humanos; por esses que detêm o poder para tal. A grande questão consiste em saber – mas tal não é concretamente possível – se tais «alguns» não são todos os seres humanos. Haverá seres humanos realmente imunes a formas de etnocentrismo (e ao que estas representam como paradigmas de rejeição acrítica e irracional do onto-antropologicamente diferente; do culturalmente diferente, também)?
A cada cultura e eventual civilização dela decorrente, corresponde uma tipologia própria de humanidade, de consideração de entidade propriamente humana. Esta tipificação, que é cultural, poiética, quer dizer, de humana criação, tem sempre alcance ontológico, pois tem como fim definir o que é ontologicamente o ser humano. Por absurdo, pense-se no que seria um determinado povo – este, felizmente, abstrato – em que prevalecesse a vontade política de um ser humano albino, que considerasse como padrão ontológico humano ser-se albino. O próprio humano seria ser-se albino. Os demais, não albinos, não seriam propriamente humanos. Quando muito, o albino-chefe poderia determinar graus de aproximação ao humano, por exemplo, definindo um grau de aproximação à ‘brancura padrão’, precisamente a do albino-chefe. Esta última parte deste desastrado exemplo já começa a fazer lembrar situações que se podem encontrar antropologicamente ao longo da humana história e que se podem encontrar também no hodierno mundo, em muitos lugares.
Se trocarmos o invocado albinismo anedótico por um arianismo germânico, encontramos, não um péssimo exemplo discursivo, mas um péssimo exemplo antropológico, ético e político, histórico, esse que serviu de base à ideologia nazi dita ‘sobre a raça’, mas mais propriamente focada na definição mais vasta e profunda do que tal movimento considerava ser a ontologia humana correta.
Como todas as ideologias, o grande problema que estes tipos de construções culturais apresentam é o facto de desprezarem em grande parte isso que é o real concreto, recusando-se a ‘olhar’ para a realidade. Podemos dizer que as pessoas que criam as ideologias desprezam a realidade, procurando substituí-la por construções sempre de tipo poiético-imagético (por mais ‘racionais’ que queiram parecer), em que se sobrepõe a vontade dos ‘poetas das ideologias’ ao real, à concretude efetiva que constitui a realidade.
Todavia, deste mesmo defeito padecem todas as construções culturais que, de modo semelhante, desprezam a realidade. Atribua-se tal tipo de construção à grandeza puramente humana e ateia de um chefe – necessariamente um tirano, pois despreza a realidade antropológica – ou à grandeza supostamente divina de uma entidade trans-natural, ou a algo ou alguém que serve de mediador entre tal entidade, em si mesma humanamente intocável (um ‘anjo’, tecnicamente, um mensageiro, um mediador), o que se obtém? No que em si possui e se afasta da realidade, tal é ontologicamente falso, assim falsificando a grandeza humana ou divina de tais entidades. Toda a construção cultural decorrente, a jusante, é, também ela, toda falsa. As consequências, vastíssimas e profundíssimas, são terríveis e fáceis de intuir, pelo que se escusa mais desenvolvimento do tema.
Pense-se, em termos cristãos, que ‘deus’ seria esse que, em vez de solicitar o consentimento de Maria, a violasse: nem por ser ‘divina’, a violação seria menos bestial reduzindo-se tal ‘deus’ a uma besta.
Ora, se um qualquer ser humano – por mais ‘indigno’ ontologicamente que fosse – percebesse tal modo perverso de agir, imediatamente seria ‘mais bom’ do que tal ‘deus’, obrigando tudo e todos a cair num necessário ateísmo. É neste sentido – radical, ontológica e antropologicamente (mas também ética e politicamente) – que isso que é o Deus para os cristãos é propriamente Deus, pois a sua ação não é inferior ao melhor que o ser humano põe em ato; antes, se revela infinitamente superior: por exemplo, cria sem necessidade de outro que não de si próprio, o que nenhum outro ser pode fazer. O Deus cristão nunca é passível de medida humana, nunca é redutível a categorias humanas, é sempre, infinitamente ‘mais bom’ («melhor» já é uma comparação redutora) do que algo que um ser humano possa realizar de bem.
O melhor de que a tradição judaico-cristã foi capaz de intuir acerca de este seu Deus mostra-o como sucessivo ato de bem, isto é, e segundo a mesma tradição, de agência segundo o bem; segundo o bem das criaturas, sem violência, sem limitar a ontologia destas, sem fazer delas suas escravas, respeitando-as no ser e como ser, dado que são todas – aqui a intuição sagrada é espantosa – criadas à sua imagem e semelhança. Não o recíproco, aliás, há muitos séculos denunciado (Xenófanes, filósofo pré-socrático).
O criador ama todas as criaturas.
Não há exceções, mesmo para as criaturas que negam a sua filiação. O laço ontológico é o bem incoativamente transmitido como possibilidade de bem a haver. Como negar tal laço? Reside nesta transmissão a grande, a infinita diferença, entre o criador e a criatura, segundo esta mesma tradição: a criatura pode desejar e querer negar o criador como tal; o criador não pode negar a criatura, pois estaria a negar um absoluto que, em última instância, se confunde, em ato e como ato, consigo próprio: como negar o absoluto de ter criado? Experimente-se, sem confundir com metafísicas lógicas matemáticas, em que se pode ‘multiplicar o passado por (-1)’.
Ora, o que o etnocentrismo e as formas que paradigmaticamente se lhe assemelham fazem é negar isso que constitui o cerne da intuição simbolicamente dada na expressão ‘criados à imagem e semelhança’, que, agora, aqui, para lá de simbologias sagradas e em linguagem laica, implica que, havendo uma tal comunidade ontológica – natural, dirá um agnóstico, por exemplo –, há, então, uma necessária semelhança ontológica entre tais seres: todos os seres humanos são, em tal mesma humanidade, semelhantes.
De notar que esta intuição – que faz parte da cultura, como tudo o mais de nossa dimensão não-natural – em nada é especialmente religiosa. Por outro lado, mesmo em termos puramente laicos, imediatamente estabelece um campo de – pelo menos – laica sacralidade do humano, da humanidade.
É esta intuição, este sentido, de humana sacralidade devida à humana comum ontologia, que funda algo como a Declaração Universal dos Direitos Humanos. É esta intuição, não um qualquer programa ideológico ou religioso ou civilizacional, etc. Pode, outrossim, haver quem não tenha tal intuição, o que nada diz de mal de tal intuição ou da Declaração, dizendo, outrossim, algo ‘outro’ de quem tal não intui.
Todas as formas de negação da comum humanidade, em termos antropológicos, têm como fundo ou a ausência desta intuição de comum humanidade ou, na sua presença, uma vontade de negar a realidade de tal intuição. Este último caso é o próprio dos tiranos.
Ora, num ponto, cada tradição em seu modo próprio, Génesis e ciência biológica nascida com Mendel, estão de acordo: há uma só humanidade, seja ela ‘filha de Deus’ ou ‘filha do ADN’. Tais posições são baseadas na evidência – não confundir com «prova» – da óbvia semelhança externa – em ciência biológica, diz-se «fenotípica» – entre todos os seres humanos, assim como da que se tornou também óbvia semelhança genotípica – do «genoma» ínsito a cada uma das células humanas, a todas, não apenas aos gâmetas – entre todos os seres humanos. É, por exemplo, impossível, através do recurso ao genoma, afirmar, ainda que como ‘bom nazi’ que ‘afirma coisas’, que um judeu não é tão humano quanto o camarada Hitler.
«Isso», «isto», quer dizer, tanto ‘o Judeu’ como ‘Hitler’, é, cada um deles, um ser humano.
Isto, «ser humano», é o que todos nós somos, sejamos nós Hitler, Estaline, a Madre Teresa de Calcutá ou qualquer outra entidade semelhantemente referenciável.
Tal «humanidade» aplica-se mesmo aos ditos deficientes – designação que inclui provavelmente quem assim os classifica – politicamente autorizados a ver a luz do dia; tal aplica-se aos próprios, assim chamados, «monstros» biológicos humanos – humanos, não caninos, por exemplo; tal aplica-se aos entes não-deficientes e não-«monstruosos» abortados: são todos fundamental e semelhantemente humanos. Tal significa que possuem uma base ontológica diferente no pormenor, mas não diversa – não há uma divergência ontológica, uma qualquer ‘metamorfose ontológica’ que os faça não-humanos –, base que é comunidade ontológica, sobre que se podem situar e se situam, quando permitidas as diferenças que, sobre tal comunidade transcendental, universal e necessária, criam o que é o próprio do indivíduo, da realidade concreta, efetiva e própria do indivíduo, neste caso, da pessoa humana.
O mais que se possa afirmar é sempre produto de uma qualquer forma de preconceito, de literal pré-juízo, de várias tipologias, todavia, todas elas de origem cultural, nunca natural ou trans-natural. Tudo, a este nível, é puramente humano; nada mais do que humano. Por um lado, a natureza não ‘afirma coisas’; na realidade, salvo prosopopeia, a natureza não afirma coisa alguma. Alguns seres humanos arrogam-se o poder, ilusório, de afirmar coisas em nome da natureza. Por outro lado, que ‘coisa’ é essa de um ‘deus’ que, precisamente, desrespeite uma natureza que, precisamente, é suposto ter criado? Pode ser ‘qualquer coisa’, todavia, em termos cristãos, não é, certamente, Deus.
Por exemplo, ainda em termos cristãos, quando se diz que a natureza é ‘má’ ou algo parecido, imediatamente se está a deixar implícito – é uma afirmação real, se bem que em subterfúgio – que ‘Deus’ é incompetente, porque não soube criar bem uma natureza boa; ou ‘Deus’ é mau, porque, sabendo criar bem tal natureza boa, não o quis fazer. Ambas estas ‘coisas’, por definição, não podem ser Deus.
A natureza é, quer em termos laicos quer em termos cristãos, isso que permite o surgimento do novo, em livre combinatória de movimentos, segundo princípios, que são eixos ontológicos absolutos, em nada comparáveis com «valores», produtos culturais e sujeitos ao mesmo jogo livre de tudo o que surgiu a partir da dinâmica natural. Os princípios conformam tal dinâmica, não dependem dela; é ela que depende deles; estes são-lhe lógica e ontologicamente anteriores.
O ser humano é o único que, não podendo infletir tais princípios, pode, no entanto, jogar de modo em que pode introduzir uma aleatoriedade apenas explicável cabalmente através do que é o labor do seu desejo e, em ato, da sua vontade. Por esta razão, não há na humanidade algo como «instinto», podendo o ser humano – mesmo que tal seja raro – não seguir, através do uso da vontade, o que lhe é dado como desejo, a todos os níveis, por exemplo, negar até à morte a ingestão de água – exemplo claríssimo.
Não pode, no entanto, mesmo desejando, na forma de algo como um ‘sentimento infinito’, não morrer, realmente não morrer, no sentido de mundanamente ‘viver para sempre’. O próprio mundo acabará, impedindo tal possibilidade. Por tal, certas religiões transpõem para um ‘fora do mundo’, fora do movimento que cria o mundo, a possibilidade de ‘viver para sempre’ que, em tal caso, é um «viver eternamente», quer dizer, sem tempo, em puro ato. Tal é motivo de fé, nunca de ciência, em sentido comum, mundano.
É sempre nesta tensão entre o que se deseja, o que se quer, no pano de fundo ontológico (metafísico) do que se pode, que o ser humano vive, habita o mundo, como propriamente humano, não como coisa entre coisas ou bicho entre bichos.
De notar que, sendo esta a condição humana, em termos ontológicos, tudo o que daqui decorre é, necessária e universalmente, natural, no sentido de que nasce e se derrama a partir do que é o estatuto ontológico próprio do ser humano, do ser-se humano, a que se costuma chamar de natural, designação que se aceita se se puser como plano de possibilidades ontológicas; que não se pode aceitar, se se tomar «natureza» como algo de fixo, que o termo não pode assumir, dada o seu sentido primeiro de «algo que brota». Na natureza, é a fonte que é estável, nunca o brotar dessa mesma fonte.
Ora, estas considerações implicam que o cerne da questão antropológica se situe em termos ontológicos, o que designamos como onto-antropologia. Não é uma antropologia ditada pelo sumo sacerdote do sítio ou pelo tiranóide qualquer que o substitua ou com ele se coordene ou confunda, mas uma antropologia que, necessária e universalmente, diz respeito, ao ente, ao ser, ao ato próprio de cada ser humano, ato em si próprio irredutível a qualquer outra coisa: vontade do ‘deus’, do chefe, mas também de uma parte sua, como o ‘cérebro’ (antigamente, o ‘coração’), o ‘inconsciente’, egóico, super-egóico ou infra-egóico, etc.
O ser humano não se confunde com o que Hitler ou Estaline pensem que deva ser, mas também não se confunde com uma marioneta oca nas mãos de um deus qualquer: o mítico Adão e sua senhora Eva, em seus atos próprios, não são ao modo de desenvolvimentos lógicos de divinos programas de computador. Há uma característica própria de cada um deles que lhes permite possibilidades também irredutíveis, precisamente porque, como parte da sua conformação inicial, faz parte o poder-não-seguir literalmente tal conformação, como, aliás, a seu modo, procuram os manobradores da chamada ‘inteligência artificial’. Não se trata de ‘aleatoriedade’, mas de poder ser segundo um infinito de possibilidades, qualquer delas concretizável e cuja concretização só é intuível – como é evidente, salvo o uso de bolas de cristal de última geração – a posteriori.
Também não são os seres humanos mera função físico-químico-biológica, se bem que não possam, de modo algum, dispensar tais dimensões. Todavia, as mesmas dimensões já não funcionais encontram-se num cadáver de um ser humano acabado de morrer, sem que ao cadáver corresponda outra humanidade atual que não seja a da dignidade de restos-mortais humanos. Não é, pois, a mera materialidade sem sentido próprio que constitui um ser humano.
Este, o ser humano, a pessoa humana, é um sentido próprio que tem como suporte material todos os elementos e funções que mantêm fisicamente tal sentido em ato, e também como possibilidade.
Ora, como em todas as outras questões fundamentais pensáveis em termos antropológicos, onto-antropológicos, a questão da pessoa em termos de definição da sua sexualidade é uma questão ontológica, pois diz respeito ao ser da pessoa, ao ato da pessoa; pessoa que é sempre um todo, um todo insecável.
Não há pessoa separável da sua sexualidade, mesmo que esta seja teoricamente perspetivada apenas como possibilidade. Não há sexualidade que não tenha de ser referida a uma pessoa como um todo. Não há sexualidade de cadáveres, como não há de ‘partes de pessoa’, como não há de puros espíritos, realidades estas últimas que, aliás, desconhecemos, por incapacidade puramente espiritual nossa. Nós, os seres humanos, necessitamos de mediações. Nós próprios somos mediações em muitos âmbitos antropológicos.
Então, falar-se de sexualidade, é falar-se da pessoa como um todo.
Do que a pessoa é como um todo e em todo o seu pormenor, realmente, em si mesma, e como ato próprio irredutível. Não apenas irredutível, mas incomparável. Na realidade, não há modelos, o que é excelente, pois, imediatamente, elimina tudo o que é da ordem do ideológico.
Cada ser humano é a realidade total que é e é como tal e em tal que deve ser intuído, que deve ser aproximado, que deve ser tratado, que deve ser, de preferência, amado.
Esta última é a tese cristã, que nega o julgamento ontológico (Mt 7: «me krinete», «Μὴ κρίνετε) e impõe o ato de amor, que, relembre-se, em termos cristãos, significa querer e fazer o bem de isso a que se diz amar. Sem tal ato, trata-se apenas de um vão dizer, como a vazia incaridade de que fala Paulo.
Muitas vezes, prefere-se o fácil julgamento ontológico ao, por vezes muito difícil, ato de amor. O mandamento do amor não é uma voz vazia, mas tem imediata aplicação como trabalho no sentido do bem, trabalho para o qual não há receitas ou deontologias, que obriga a labor e discernimento, que obriga a que existam princípios, isto é, eixos de possibilidade de ação. Sem ser casuístico, o amor é sempre concreto, pessoalmente trabalhado, não tem de ser agradável, pode ser difícil e angustiante, não pode depender de caprichos ou outras realidades psicológicas, não pode ser provisório, melhor, tem de acompanhar indefetivelmente a mundana provisoriedade do ser humano a quem se ama.
Em dramática anedota, percebe-se – ou, então, está-se ao nível de uma necedade (ainda humana) profundíssima – que uma entidade qual uma pessoa a quem faltem ambas as pernas e ambos os braços é ontologicamente inegavelmente humana. Neste caso, aliás, passível de sexualidade; sexualidade que, assim, se percebe que nada tem de obrigatoriamente relacionável com braços e pernas, embora todos estes possam possuir uma erogenia avassaladora para alguns seres humanos.
O que se afirmou para «braços e pernas» pode ser afirmado para outras ‘peças’ humanas, isto é, para qualquer parcialidade humana, pois, em termos propriamente humanos, o que conta é «o todo», que não é um somatório de partes, antes o ato da sua integração como pessoa. Nenhuma leitura parcial humana – sempre de tipo ideológico – pode, alguma vez, ser aceite em termos antropológicos.
É a pessoa toda, no todo real que dela há em ato – não numa qualquer totalidade-padrão ideológica, irreal, portanto –, que conta em termos de sexualidade, como, aliás, em tudo o que diz respeito à fundamental construção de sentido próprio humano. O mais é, no mínimo, especulativo, no máximo, tirânico: pense-se na barbaridade que é a excisão do clítoris, em certas culturas, por exemplo (sobretudo sem que se proceda também à excisão das glandes dos pénis, atos tão absurdos um como o outro).
Esta triste e longa anedota serve para penosamente se perceber que a sexualidade, como outras características ontológicas humanas, é sempre algo que implica, envolve, penetra semanticamente, constitui, a pessoa como um todo. A sexualidade não é genital, nem tem de ser genitalizada: pode ser, não tem de ser. A sexualidade pode ser influenciada pela relação política – dita social, em sua superficial exterioridade –; pode, mas não tem de ser. Pode ser biologicamente condicionada; pode, mas não tem de ser.
Ora, o mesmo já não se pode dizer da materialidade do corpo, que é mesmo biologicamente condicionada, e, em maior profundidade ontológica, é marcada poderosamente segundo o binómio energia-matéria, pela química, pela física, em sentido estrito, na sua mais profunda radicalidade da realidade das forças que constituem o universo material e suas relações. Todavia, duvida-se de que alguém seja homossexual por determinação direta, por exemplo, da força da gravidade ou de qualquer uma das outras três forças/relações. Se se procurar aí, só se encontrará o preconceito do investigador. Preconceito que é o grande motor das posições ideológicas, várias, que sobre estas questões se vão impondo.
As questões relativas à sexualidade são graves, mas não são certamente gravíticas ou eletromagnéticas, embora sem gravidade nem corpo como o conhecemos possa haver, e, sem eletromagnetismo, não há por exemplo, comunicação interneuronial, com a qual também nos apaixonamos: nós, não os nossos neurónios. Aliás, um neurónio apaixonado seria uma realidade biológico-romântica interessantíssima. Esta ironia serve para fazer ressaltar que sem neurónios não há sexualidade, mas sem o músculo cardíaco também deve ser difícil haver, sem rins ou máquinas que os substituam, poderá haver por alguns dias, etc.
Tal significa, de novo, que a sexualidade não é uma qualquer função parcial humana, sustentada por uma qualquer parte mais ou menos isolada da pessoa, mas que implica a pessoa como um todo, não significando tal que implique tudo isso que erradamente se considera o corpo humano, habitualmente visto como um cadáver ainda animado, uma materialidade habitada por realidades fantasmáticas e postiças, como a velha alma que se impõe a um corpo, como se enche de água um copo que já tem areia no seu interior. O ser humano não é isto, não é analogável a isto. É um ato irredutível a qualquer outra coisa. Não é confundível o que são as condições materiais de funcionamento da pessoa com a própria pessoa.
De notar que, com altíssima probabilidade, grande parte dos átomos com que um ser humano nasce já nele não estejam presentes ao fim de n anos, tendo sido substituídos por outros, semelhantes, não iguais, o que manifesta que não é a estrita materialidade que conta, mas a organização da matéria, que não é da ordem material, mas lógica.
Ora, a matéria não sabe lógica.
Pressupõe a lógica para que sequer, como organização mínima, possa existir. A lógica é a base de todo o sentido possível; logo, também, do sentido em ato.
O único sentido em ato que o ser humano conhece é o seu próprio, sendo a partir do seu próprio que pode conhecer todas as outras formas possíveis de sentido. A sexualidade faz parte deste possível e concreto universo de sentido e é como tal que tem de ser tratada quer em termos puramente teóricos, quer em termos de aplicabilidade e aplicação prática.
O corpo, sobre que há muitas teorias, todas incompletas, é o ato concreto da presença da pessoa no mundo. É um ato concomitantemente físico e espiritual, pois, sem o sentido da própria atualidade – espírito –, não há ou pode haver qualquer noção de corpo, de pessoa, sequer de matéria.
Talvez mais do que «o grande problema» relativo à sexualidade, «o único problema sério da sexualidade» seja a sua não consideração como algo da pessoa como um todo, fazendo que se pense que se pode ‘arrumar’ a questão da sexualidade para um apartado qualquer da e na pessoa, podendo, mesmo, deixá-la lá enterrada, para ver se se esquece.
Todavia, não se aparta, não se enterra, não se esquece.
A sexualidade, na sua fundamental realidade como possibilidade, nasce com a pessoa – está presente, a este nível, a partir da junção dos gâmetas haploides que formam diploidia biológica que é a base bio-física de tudo o que somos, sexualidade incluída –, vive como isso que é a pessoa, morre com a pessoa, morre como pessoa.
Neste sentido, só os cadáveres não têm sexualidade própria (embora possam excitar a sexualidade de terceiros humanos vivos). Entre outras características que lhe são próprias, a sexualidade é um âmbito de radical dureza, pelo que tudo o que se lhe refira o deve fazer com extremo cuidado.
Deste modo, do ponto de vista ontológico, a sexualidade, ativa ou passiva – pelo menos em possibilidade meramente teórica –, confunde-se com o que a pessoa é em seu ato.
A razão de tal, conhecida há muitos séculos, diz respeito ao que o ser humano é, como totalidade de seu ato, em termos de desejo. Este é o termo central: o desejo.
Pela negativa, e para quem pense que se pode eliminar a sexualidade, tal significaria eliminar o desejo humano, o que implicaria, imediatamente, eliminar o ser humano. Estranha-se, então, que seres humanos a quem a sexualidade é imposta como interdita ou ditada, se suicidem, por exemplo? Pois, se se lhes aniquilou a fonte da sua possibilidade, o seu desejo. Perceba-se: para deixar de se ser – não é de se ter, a sexualidade não se tem, é-se – sexualidade, tem de se deixar de se ser desejo. Experimente-se.
A sexualidade, como desejo, é, assim, um limite ontológico do e para o ser humano.
Os limites definem ontologicamente o que se pode ser – tal não ocorre em termos ‘morais’ ou ‘políticos’, não é o que manda o ‘guru’ ou o ‘chefe’, mas o que é determinado como princípio de constituição ontológica do próprio humano – em termos humanos. Ora, ao contrário do que nesciamente se afirma, os limites não são ultrapassáveis, são como assíntotas balizadoras da poética do humano, da real e concreta construção do humano.
Algo como um real, que não meramente literário, «pós-humano» significa, realmente, um «não-humano», pois, para ser superação do humano, significa que usou limites diferentes, assim criando ontologicamente uma nova ‘espécie’. Por exemplo, no bem conhecido filme de Spielberg, Artificial Intelligence, o realizador e argumentista escolhe substituir uma velha e pervertida humanidade por uma «pós-humanidade» algorítmica, com suporte físico não-humano. Não é uma ‘nova humanidade’, é uma outra realidade lógica construída sobre trabalho humano, mas também sobre a aniquilação da humanidade.
A humanidade que somos constitui-se e constrói-se a partir do desejo e da sua governação, que é tanto mais humana quanto é de autoria própria, no que se designa como «autonomia»: ética, política, onto-antropológica. Todavia, esta autonomia não está magicamente apontada para ser finalidade de melhoria ontológica, podendo, como se percebe no filme citado, levar à aniquilação de si própria.
Simplificando ainda mais uma realidade altamente complexa: o problema reside em que cada um de nós, do mais avançado investigador científico ao mais atrasado ‘opinador’ de preconceitos, não intui os seres humanos como realidades em ato – de que todas as suas potencialidades próprias fazem parte desde o primeiro momento de diploidia onto-génica constituinte do indivíduo irredutível –, unas, ontologicamente insecáveis, integradas, em que não faz qualquer sentido antropológico reduzir tal grandeza a qualquer sua parte ou, pior, a isso de que a inteligência do observador é capaz. De recordar que todos os observadores humanos são inteligências finitas em ato, não são ao modo, por exemplo, do Deus de Leibniz.
Ora, quando se começa a abordar o estudo do que hodiernamente se vai pensando sobre este âmbito, a isso a que chamamos «sexualidade» pertence, encontramos, de imediato, perplexidades várias, sobretudo quem tem formação quer biológica quer ontológica, antropológica e ética, como o autor destas linhas. Poupando espaço, e como exemplo: a que realidade é que se vai buscar a terminologia ou terminologias habitualmente usadas, sobretudo num mundo epistemológico que se reclama «da experiência»?
Alguns exemplos, sem citar fontes, por razão de respeito humano e laboral. Que é isso de «amor sexual»? Amor entre os sexos? Refere-se à espécie humana como um todo, ou a amor entre órgãos sexuais? No primeiro caso, faz lembrar uma universal orgia; no segundo, tem de se atribuir algo como uma ‘alma’ aos órgãos sexuais. O que é que se quer dizer, precisamente, com a expressão em causa? Será algo como «a expressão sexual do amor entre seres humanos»? Mas, se é tal, por que razão não se diz tal? Ainda assim, a expressão teria de ser criticada, pois, sem mais, não tem significado antropológico.
Outro exemplo é «corpos sexuados», referindo-se aos ‘corpos humanos’. Todavia, há corpos humanos «não-sexuados»? Repare-se que a questão não é «há corpos não-genitalizados?». A haver corpos «não-sexuados», que quer tal dizer? Que há pessoas sem sexualidade? Se há, como, exatamente? Note-se que mesmo algo como o «frigidismo» é uma forma de sexualidade. Repete-se: o que é um corpo humano «assexuado», quiçá, «assexual» (não confundir com «a-genital»), o que é um ser humano sem sexualidade?
Os exemplos podem repetir-se longa e penosamente; basta, pois.
Todavia, para o efeito desta reflexão, interessa uma outra expressão, aparentemente anódina: «a questão homossexual». Então, a homossexualidade é «uma questão»? Não será, antes, e incontornavelmente, uma «realidade»?
Compreende-se: uma questão é algo que se resolve, uma realidade é algo irresolúvel, senão por aniquilação (o que Hitler quis fazer com todos os indesejados, incluindo as pessoas homossexuais).
Com uma realidade, ou a aniquilamos, se formos disso capazes, ou temos de conviver com ela.
A força da gravidade não é uma «questão», ou é? Implica, entre outras coisas, algumas questões, isso sim; no entanto, o que é é uma realidade. E esta não a podemos aniquilar, para, por exemplo, voar como os anjinhos. Todavia, nós não somos anjinhos, somos seres humanos.
Se tivéssemos o mínimo de respeito pelos grandes pensadores que nos antecederam, teríamos registado culturalmente em forma de comum memória – essa mesma em que tradicionalmente gravamos os preconceitos nossos de cada dia – o que o velho Platão (ainda antes de mostrar ao mundo o que é a estrutura erótica da ontologia humana, ontologia, onto-antropologia de desejo e de capacidade para o anular, dialeticamente e sem fim, pela voz de Sócrates) mostra como absoluto lógico – metafísico – de possibilidade de ocorrência (algoritmo, se se quiser) real, havendo, como, de facto, há, uma diferenciação sexual em dois sexos (pense-se se seria impossível à natureza ‘inventar’ mais do que dois).
Tal decorrência não é caprichosa, ideológica avant la lettre, mas puramente lógica, irredutivelmente lógica: com um par de sexos – logicamente quaisquer, por exemplo, A e B; todavia, no concreto humano, fêmea e macho, sexo feminino e sexo masculino (sexos, não géneros; questão diversa, porque obedece a uma lógica diversa, não-natural) –, pode constituir-se quatro pares combinatórios: (AA), (BB), (AB), (BA).
Reforça-se a noção segundo a qual, dado que tudo decorre num nível puramente lógico, nem sequer é preciso elencar «que sexos». Nada disto é cultural (como, em parte, é o caso do género). É uma estrutura de possibilidade. Tal não significa que, ao modo das estruturas puramente metafísicas, como as matemáticas, em que o triângulo não pode escolher ser outra coisa, tenha de se realizar o que é possível logicamente; significa que pode ocorrer.
Concretizando: havendo dois sexos, a homossexualidade é uma possibilidade lógica – e, consequentemente, ontológica.
Não é algo de cultural. A este nível, nem sequer é algo que dependa de escolha a nível pessoal. A possibilidade é estrutural. Lógica e estrutural. Tal não significa que tenha de haver homossexualidade, mas que é lógica e ontologicamente possível haver homossexualidade.
Como se vê, em termos lógicos, a questão é simples. O mesmo já não sucede em termos antropológicos, éticos e políticos, pois nenhum destes modos ontológicos constitutivos da pessoa (e a pessoa humana é a única que a nossa experiência comum conhece) apresenta carácter ontológico de necessidade: ética, política e antropologia são em forma não-necessitante. Se a possibilidade da homossexualidade é necessitante, sendo tão contornável a sua possível combinatória de possibilidades quanto o é o princípio gravítico em termos físicos, já quer em termos éticos quer em termos políticos quer em termos antropológicos, nada há que seja, em termos de princípios lógicos, análogo ao princípio gravítico.
Ora, não se é necessariamente homossexual em termos de decisão própria, pró ou contra; não há um determinismo necessitarista em termos de uma tal eventual decisão, como há em termos da relação dos corpos, todos maciços, com a gravidade, necessariamente implicada na própria condição maciça dos corpos. Não há decisão em termos gravíticos; pode haver decisão em termos de comportamentos sexuais; não pode haver decisão em termos da combinatória possível no que diz respeito às formas de relacionamento sexual, que são determinadas pela lógica própria, intrínseca e inamissível, da natural dicotomia sexual; não se deve confundir ação e comportamentos determinados por tal ação – tais ações, multímodas – com condições lógicas, ontológicas e antropológicas (onto-antropológicas) que suportam, precisamente de forma ontológica, tais possíveis ações.
Não se lida em termos de relações inter-humanas com a homossexualidade como se lida com a gravidade; não se constitui ontologicamente alguém em termos de homossexualidade como se constitui alguém na relação física com o princípio gravítico. Não é assim que ‘as coisas funcionam’.
A possibilidade da homossexualidade é determinada pela lógica própria da possível combinatória sexual de relação entre entes naturalmente vindos ao mundo no seio de um dimorfismo sexual.
A possibilidade da ação, no seio de tal mesmo dimorfismo, é determinável e determinada por meio da ação humana. A primeira dimensão é ontológica, a segunda é ética.
A homossexualidade é logicamente relacional, pois implica a relação política com um outro ser humano, em termos comuns, «do mesmo sexo»; o mesmo se passa com a heterossexualidade, que implica, também ela, uma relação lógica com um outro ser humano, neste caso «do ‘outro’ sexo».
Sem esta relação, nem heterossexualidade, nem homossexualidade fazem qualquer sentido, pois, sem relação, não há sexualidade em qualquer destes dois sentidos, que implicam sempre, precisamente, relação com outro ou outros seres humanos.
Em si mesmo e isolado, nenhum ser humano pode logicamente ser heterossexual ou homossexual. Pense-se no que seria um mundo em que houvesse apenas um indivíduo humano de um determinado sexo, não interessa qual: como é que tal ente saberia se era heterossexual ou homossexual, dado que tal descoberta implica sempre uma relação inter-humana. Aliás, é precisamente o fundamental do que está aqui em causa, este sentido de «inter-humanidade», que implica logicamente que haja uma comum humanidade.
A humanidade é sempre lógica e ontologicamente anterior a qualquer forma de determinação ou definição sexual, o que implica que um ser humano, qualquer, não é, sobretudo, um ‘heterossexual’ ou um ‘homossexual’, mas, acima e antes de tudo, um «ser humano», uma «pessoa humana».
O que ficou dito sobre este aspeto da sexualidade humana, muito mais complexa do que este aspeto isolado, pode e deve ser dito para toda e qualquer característica segunda dos seres humanos, segunda por relação à primeiríssima realidade da comum humanidade.
De facto – e de direito, mas fundado no facto –, há mesmo uma só humanidade. Esta humanidade é a ‘minha’, a ‘tua’, a do ‘homossexual’, a do ‘heterossexual’. Não há outra humanidade e não há humanidade alternativa. Pode, sim, haver nada de humanidade, isto é, ser a humanidade aniquilada; e pode sê-lo às suas próprias mãos.
Com a definição da sexualidade, por um lado, está-se em campo lógico: se por absurdo, só houvesse um sexo – o que seria ilógico do ponto de vista da evolução ontogénica da espécie humana –, não poderia haver quer heterossexualidade, quer homossexualidade. Por outro lado, está-se, na decorrência desta lógica possibilidade de combinatória de relação humana em termos de sexualidade, num campo antropológico em que cada ser humano, no seio desta possível combinatória, se descobre naturalmente – esta naturalidade decorre necessariamente da lógica em causa – como heterossexual ou homossexual, no que é uma intuição irredutível tanto num caso como no outro.
Aqui, não é possível não se recorrer a um «caso», que tem de ser o de quem escreve estas linhas, por impossibilidade de quem as escreve saber exatamente o que ‘se passa’ no seio da interioridade de todos os outros seres humanos. Ora, acontece que a intuição própria, desde sempre, de tal pessoa a dá a si própria como heterossexual. Podem vir todos os poderes do mundo, pode mesmo vir uma tonta imagem ‘de Deus’ (de um deus feito por um tonto) tentar convencer tal pessoa de que, ‘vendo bem’, é homossexual. Todavia, a intuição inicial mantém-se. É irredutível. Pense-se, agora, no que será – não se pode senão especular, mas sabendo que há uma semelhança ontológica entre todos os seres humanos (e é esta a grandeza própria da ontologia cristã, da onto-antropologia cristã) – a intuição, paralela, mas semelhante, de um homem (ou de uma mulher) que se intui, que talvez sempre se intuiu como homossexual. Por que razão, a minha intuição é boa e válida e a do ‘outro’ não é? Quem pode deliberar acerca da bondade da intuição fundadora de cada ser humano, para lá do próprio?
É claro que, para o crente cristão, «Deus sabe», sabe de mim e de todos. Ora, precisamente, este tipo de intuições próprias e definidoras são apenas passíveis de aferição quer pelo próprio quer por Deus. Nenhum ser humano tem o direito – até porque não tem o poder ontológico para o fazer – de se arvorar em Deus ou em consciência alheia, «do outro».
Como se pode ver, e está-se apenas a trabalhar uma pequena parte da questão da definição da sexualidade própria de cada ser humano, não só cada uma das questões parciais suscitáveis é, em si mesma, complexa, como é, também profundíssima, tão profunda quanto o cerne do ato próprio e irredutível de inteligência que ergue cada ser humano como, precisamente, ser humano. Toda a interferência em tal ato, como inequivocamente mostra a reflexão inexcedível do Livro de Job, é um ato de tirania.
Neste tipo de questões definidoras do que é cada ser humano no que há de mais profundo em si mesmo, o que é necessário em termos políticos, isto é, da relação inter-humana, é um sentido de cuidado, de bem-querer, de ajuda, de auxílio, numa palavra, de amor, em termos cristãos, de caridade, cujo étimo remete para «graça», isto é, para dom.
Que dom? Dom de possibilidade de ser, de se ser, não no seio de uma anti-comunidade de ‘julgadores’, mas de uma comunidade de pessoas – assim, sim, pessoas – que mutuamente se amem quer na e pela sua semelhança quer na e pela sua diferença. O mesmo não é dizer que se embarque em caprichos ideológicos. Melhor, tal significa que as pessoas devem ser educadas para que nunca se caia em caprichos ideológicos.
Pense-se bem, que sentido faria que o tal autor destas linhas, por razões ideológicas, quaisquer, resolvesse ser homossexual? Tal faz, sequer, sentido? A intuição ontológica que o funda mudaria em função de uma vontade violentadora do que se é? O mesmo é aplicável a um homossexual. O mesmo é aplicável a qualquer intuição fundadora do que é cada ser humano. Todavia, manda a honestidade intelectual que se ponha a questão, séria, não caprichosa e não ideológica: «e se a intuição fundamental mudar?».
Compreende-se como esta é uma questão séria, que pode, por exemplo, estar na origem de algumas das chamadas ‘mudanças de género’, designação que não faz jus à grandeza onto-antropológica do que está em questão. Não é este o tema específico desta reflexão, pelo que apenas se deixa este apontamento.
Repare-se bem, então: a homossexualidade pode ser, não tem de ser. Pode nunca ser. Pode ser, e, seguindo a lógica da combinatória, pode ser, naturalmente, em metade dos casos. Não é esta a percentagem que se costuma detetar.
Não é, provavelmente, porque os seres humanos não são determinados a ser algo como o triângulo é determinado a ser triângulo – não sendo assim todas as outras infinitas figuras geométricas planas possíveis. Chama-se a tal possibilidade não determinante, goste-se ou não, compreenda-se tal ou não, «ser-se livre». Ao nível da ação, a liberdade, sem anular seja o que for do ponto de vista ontológico basal, transcende tal nível.
Qualquer juízo que se possa fazer acerca de qualquer ser humano nunca deve ter como objeto a sua ontologia, no que será, sempre, um ato de injustificável violência – quem sou eu, para julgar do ser de um outro ente humano; porventura, tenho a ilusão de ser ‘Deus’? – sobre o que há de mais precioso em tal ser humano submetido a julgamento, a juízo. Apenas os efeitos das ações, de origem ética e com consequências quer sobre o próprio que age quer sobre terceiros – humanos ou não – podem ser, sem violência imediata, submetidos a juízo.
Tal significa que a parte propriamente ontológica da definição da sexualidade própria de cada pessoa – já não se trata apenas de heterossexualidade ou de homossexualidade – não pode ser submetida a juízo de terceiros sem que haja violência imediata sobre quem assim é julgado. Deste modo, tal não deve, nunca deve ser submetido a juízo.
Apenas o que decorre, eventualmente, de tal sexualidade em atos em que tal sexualidade se expresse pode ser submetido a juízo. Isto aplica-se a tudo o que se refere à expressão da sexualidade humana. Voltando à exemplificação com o único sujeito possível: que direito tenho eu de ir berrar para a praça pública a grandeza da minha heterossexualidade? Que dever têm os outros de literalmente aturar tais berros? Basta, para que se perceba o que está em causa.
Então, a homossexualidade não é uma questão, é uma realidade natural, implicada como possibilidade pela existência de dois sexos. Não é necessária enquanto realidade concreta, mas é necessária como possibilidade a partir da constituição dual da sexualidade humana. Goste-se ou não se goste. No entanto, esta possibilidade teoricamente pode até nunca ser atualizada. Não é isto o que sucede: há homossexualidade real, assim como há heterossexualidade real, assim como há real indiferença sexual. Nenhuma destas concretizações é necessária. As que existem são factuais, não necessárias. Todavia, na sua realidade própria, são o que são. Neste complexo acervo possível e real, não se contemplam atitudes de tipo caprichoso, que são apenas isso mesmo.
Se, por absurdo, apenas houvesse um ‘sexo’, como, por exemplo, em certas plantas, toda a humanidade seria estranha e necessariamente ‘homossexual’, o que não é o caso. Escreveu-se «homossexual» entre comas, pois, na realidade, não é homossexualidade alguma, mas, por exemplo, algo coincidente com formas de reprodução tipicamente por clonagem, como é o caso dos fetos, em que as novas gerações replicam de modo pelo menos teoricamente exato – salvo as imprecisões que processos tão complexos sempre se arriscam a ter – o património genético não dual sexualmente das gerações anteriores.
Acresce que, a este nível natural, não há propriamente algo que se possa comparar com o que em termos humanos é a possibilidade radical de escolha: um feto não escolhe não se reproduzir, como um ser humano pode escolher não praticar uma sua qualquer forma de sexualidade, mesmo que fortemente marcada, mesmo que ‘ardente de desejo’; tal desejo pode sempre ser anulado por vontade de quem é tal desejo. Note-se que não se afirma «de quem tem tal desejo», forma dualista, pois, o ser humano não ‘tem’ desejo, desejos, o ser humano «é desejo» e é vontade. A vontade governa o desejo. Salvo num cadáver – pedaço de matéria biológica e nada mais –, há sempre a possibilidade de haver exercício de vontade.
Todavia, e em síntese, o que a lição platónica nos ensina também é que uma coisa é a possibilidade de homossexualidade implicada pela própria estrutura onto-antropológica da humanidade, outra é uma homossexualidade não-natural, cultural e de raiz ética, isto é, de humana decisão. Esta diz respeito não ao modo lógico como a natureza humana está logicamente disposta, mas à liberdade humana, na sua raiz mais profunda de livre-arbítrio, podendo cada ser humano, sempre, a menos que seja reduzido precisamente como ser humano, escolher o que, aqui literalmente, desejar e quiser, sendo o ato da vontade sempre a concretização da paixão do desejo. Concretização humana, pessoal, pessoalíssima, de responsabilidade pessoal. Como é evidente, não são aceitáveis os casos em que a liberdade humana está de tal modo diminuída que já não há real possibilidade de opção, de decisão (mesmo que se tenha de manter tal possibilidade em termos teóricos, sem o que se nega a própria humanidade do ente em consideração).
Sendo, assim, irredutivelmente, a homossexualidade uma possibilidade, a sua existência, como a existência de tudo, aliás, pode suscitar questões. Aqui, sim, este termo faz sentido.
Ora, abreviando mal um tema longo, a grande questão, de que todas as outras dependem, consiste em saber qual o modo como cada ser humano – eu, tu… – intui cada um e todos os outros seres humanos (tendo em conta o modo como a si próprio se intui e o modo eventual como projeta sobre terceiros o que de si e como si intui).
Como se intui o outro: como alguém a amar, usando o termo amor cristãmente como «agir no sentido do bem de algo, de alguém», ou intui-se como sendo alguém a destruir, em última instância? O «homossexual» (como o «heterossexual») é alguém a amar ou a destruir?
Para o cristão, se quer continuar a merecer a designação de cristão, a sua vida é uma vida de amor. Universal. Se assim não for, não é cristão, realmente, embora possa ter a ilusão psicológica de que que é cristão. Mas não é.
O cristianismo como algo cultural, realidade de valores, é nada mais do que isso: uma realidade cultural. Ora, as realidades culturais são intrínseca e exclusivamente humanas. Deus nunca criou cultura. O que surge em termos de cultura religiosa, a maior parte dela não sendo cristã, mesmo a que como tal se autoproclama, nunca é obra direta de Deus, mas de Deus com o Homem. Deus não «escreveu» o Génesis. Todavia, para quem acredita no Deus cristão, o que algum Homem escreveu no e como Génesis, é «logos», sentido, palavra, graça de Deus. O cristianismo vive deste sentido divino, não de valores humanos.
A dimorfia sexual humana, como criada por Deus, implica logicamente tudo o que implica, sob pena de não poder haver humanidade. Ao crente, compete respeitar todo o alcance lógico das consequências do ato criador de Deus, que inclui a possibilidade de combinatórias de sexualidade várias. É assim. Para que assim não fosse, teria, precisamente, de se anular a dimorfia (dimorfismo) sexual. Ora, tal implicaria aniquilar a humanidade.
O que decorre da lógica combinatória deste dimorfismo implica realidades possíveis com que cada ser humano, também cada crente, tem de saber lidar, literalmente «conviver», a menos que queira não conviver, eliminado a possibilidade do outro, do diferente, nunca do diverso, pois a humanidade nunca é sob a forma da divergência, mas da diferença, em seu absoluto, absoluto que, composto com a semelhança – divina – cria, em ato, cada ente humano.
A opção, assim, perante esta realidade ontológica, onto-antropológica, é sempre entre o amor, que é politicamente centrípeto e convoca para a comum cidade, assembleia, Igreja, e o não-amor, que é politicamente centrífugo, aliena, no limite, aniquila. Um cristão não tem de gostar seja do que for, tem de amar. Se não quer amar, não é cristão, é algo de diverso. É esta a escolha, sem desculpas, sem fugas doutrinais, pois, em sua divina simplicidade, ou cumpre o mandamento de amor universal de Cristo ou não o cumpre. Se não o cumpre, não é cristão, vive apenas na ilusão de o ser.
Como, no difícil, complexo, intricado, doloroso, angustiante, pormenor da ação, se ama, tal constitui, precisamente, a substância ética e política da vida do cristão, para que não há protocolos pré-fabricados, doutrinas mágicas: há a tal simplicidade do mandamento de Cristo, há a grandeza humana de se ser feito à imagem e semelhança de Deus, há algo de muito difícil e incómodo, sem magia, que se chama trabalho. Amar dá muito trabalho, algo que gostar não dá. Ame-se, então.
Termina-se com uma questão, deixando o necessário aprofundamento para melhores pensadores: como deve o cristão agir relativamente a alguém homossexual: como alguém a odiar, descriminar, eventualmente, aniquilar, ou como alguém a amar, um semelhante, diferente em termos de sexualidade, mas não inferior ou mau, não esquecendo que o único a quem compete julgar acerca da bondade ou maldade ontológica do criado é o criador, o Deus em que diz acreditar?
Tudo o que se afirmou paradigmaticamente em relação à heterossexualidade e homossexualidade pode ser aplicado, devidamente adaptado, a qualquer outra ‘questão’ pertinente no domínio da variegabilidade reflexiva em torno da sexualidade humana e sua relação com a construção ou destruição da identidade humana.